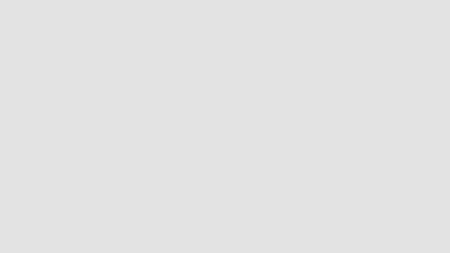Uma "ironia cósmica" impediu Hugo Gonçalves de ser pai e filho ao mesmo tempo. De facto, à medida que o seu filho crescia, o seu pai definhava. Este encontro entre a vida e a morte fez o vencedor do Prémio Literário Fernando Namora 2024 questionar-se quanto à paternidade da qual tinha sido "um sujeito passivo", colocando em cima da mesa não só os traços que havia herdado do seu pai, e este do seu avô, mas também que postura adotaria, agora que estava prestes a representar essa função.
Foi através de 'Filho do pai' que Hugo Gonçalves procurou descodificar estas questões, depois de, em plena pandemia, ter visitado o pai enfermo, com quem não falava havia dois anos. Contudo, só quando descobriu que seria pai de um rapaz, no mesmo dia em que o seu progenitor foi internado de urgência, é que a ideia de colocar tudo formalmente em papel se materializou.
Se 'Filho da mãe' aborda o luto precoce e cru de uma criança que, aos oito anos, se viu confrontada com a morte da mãe, 'Filho do pai' revisita a vida - e a masculinidade - do pai e do avô, que se entrelaça na do autor, dando azo a uma meditação do que significa ser homem e pai nos dias de hoje. O luto também ocupa lugar nesta busca por respostas, ainda que, conforme tenha confessado ao Notícias ao Minuto, "as dúvidas só por si, e as ambivalências, também [valham] como resposta". Isto porque, recordou, "quando somos pequenos, os nossos pais são quase caricaturas [...] e, quando crescemos, percebemos que são tão falíveis e tão frágeis como nós".
A assunção dessa impossibilidade, com o que isso representava, fez-me pensar muito sobre a paternidade da qual eu tinha sido um sujeito passivo. Ou seja, eu, filho do meu pai e mãe, como é que ia ser pai deste rapaz? O que é que herdaria do meu pai? O que é que ele recebeu do pai dele?
Seis anos depois de ter editado ‘Filho da mãe’, regressa com ‘Filho do pai’. Esteve sempre nos seus planos dedicar um livro ao seu pai depois da morte deste, ou foi algo que surgiu ‘à boleia’ da obra anterior?
Tendo em conta a relação que tinha com o meu pai, que era atribulada, por assim dizer, e tendo em conta a própria vida dele, o lado mais romanesco da vida dele, e como essa vida se cruzou com a minha, e que a família é um tema que está presente naquilo que escrevo, achava que poderia vir a escrever sobre o meu pai. Como digo no ‘Filho do pai’, só não sabia que ia escrever sobre a morte do meu pai e o nascimento do meu filho. Isso só se tornou claro no dia em que fui visitá-lo; é assim que começa o livro. Não falávamos há dois anos, estávamos a meio de uma pandemia, ele tinha um cancro, supostamente estava meio controlado, mas era um homem de 70 e tal anos e achei que deveria falar com ele, não tendo a certeza se seria a última vez; esperava que não fosse, obviamente.
Nesse dia, depois de uma conversa um pouco à superfície das coisas, - estive na casa onde cresci, o que também tem um lado simbólico -, quando me ia embora, ele chamou-me e ofereceu-me a minha certidão de nascimento, sem me dizer porquê, o que me fez pensar em muitas possibilidades. Aí, comecei a escrever algumas notas. Não era um diário, mas tinha as características de um diário. Quando ele foi internado de urgência, no mesmo dia em que eu soube que ia ser pai de um rapaz, tornou-se evidente que ia surgir alguma coisa dali. Essa certeza foi confirmada depois da morte dele, quando percebi que nunca ia ser pai e filho ao mesmo tempo. A assunção dessa impossibilidade, com o que isso representava, fez-me pensar muito sobre a paternidade da qual eu tinha sido um sujeito passivo. Ou seja, eu, filho do meu pai e mãe, como é que ia ser pai deste rapaz? O que é que herdaria do meu pai? O que é que ele recebeu do pai dele? Então, o livro começou a formar-se dessa maneira, com esses dois eventos fundamentais: uma morte e um nascimento.
Escrevi o livro como uma espécie de viagem pela paternidade, pela experiência de ser filho, mas também pensando na masculinidade, porque é um tema incontornável para quase metade da humanidade, que nasce homem e que assim se assume, e num período em que a masculinidade está a ser redefinida
Como mencionou, não teve a oportunidade de ser pai e filho ao mesmo tempo. Aliás, à medida que o seu filho crescia, o seu pai definhava. Como é que lidou com as emoções de ter a vida tão alinhada com a morte?
Acho que na altura não se pensa muito nisso e talvez por isso é que se escreva um livro. Ou seja, o livro serve para fazer uma reflexão sobre esses momentos. O livro trabalha muito esse contraste entre as emoções do momento, ou seja, as emoções que estavam escritas num diário, num registo mais imediato, sem grandes reflexões, mais baseado nas emoções do dia a dia, de saber que o meu pai foi internado, de estar zangado, de estar triste, com a capacidade de, quatro anos após a sua morte, sentar-me, olhar para esse diário, pegar nas minhas memórias e escrever já com outra profundidade sobre isso e já com a experiência de ser pai há três anos.
Havia uma experiência de paternidade que ainda é reduzida, – não fui pai de um adolescente nem de um adulto –, mas que me permitia conectar-me mais com a experiência do meu próprio pai. A escrita permitiu-me fazer essa ponte entre a minha experiência e a experiência do meu pai, que nunca será possível, porque ele morreu antes de o meu filho nascer. Não foi para isso que escrevi o livro; escrevi o livro como uma espécie de viagem pela paternidade, pela experiência de ser filho, mas também pensando na masculinidade, porque é um tema incontornável para quase metade da humanidade, que nasce homem e que assim se assume, e num período em que a masculinidade está a ser redefinida.
A minha masculinidade já não era exatamente aquela que o meu pai herdou do seu pai, mas a do meu filho será ainda mais diferente. A masculinidade também foi um pouco sequestrada pela polarização do discurso político e ideológico, e acho que a radicalização das opiniões não costuma trazer ao de cima nem coisas boas, nem grandes verdades, porque está imersa num viés normalmente ideológico e até, às vezes, fanático. Parti, mais do que tudo, da dúvida. Queria fazer perguntas e tentar, ao longo do livro, ir respondendo a essas perguntas. Algumas se calhar não têm resposta; as dúvidas só por si, e as ambivalências, também valem como resposta.
Escreveu que o luto pelo seu pai "estava a ser feito havia anos, com ele ainda vivo", mas não foi bem assim, pois não?
Pois, achamos sempre que somos estes mamíferos bípedes programados para ter certezas. É curioso porque, durante a pandemia, viu-se a aflição em que caímos. Tudo era incerto, não havia respostas, não sabíamos o que ia acontecer, e estamos programados biologicamente para isso, para a procura de padrões, de controlo, de certezas. Pelo tempo que passou desde que não tinha falado com o meu pai, pelas consultas de psicoterapia, pela minha experiência de vida, pelo meu amadurecimento, sabia que nunca seria o filho que ele queria, nem ele seria o pai que eu, se calhar, desejava. Já via isso sem grande mágoa e poderíamos encontrar-nos mais mil vezes e viver mais 100 anos que dificilmente chegaríamos a uma espécie de conciliação. Daí ter dito que o luto estava a ser feito em vida, ao contrário da minha mãe, que é um luto radical e catastrófico que acontece a uma criança de oito anos.

© Penguin Random House
Quer dizer, era um homem de 40 e tal anos que sabia que o meu pai ia morrer, mas a verdade é que a morte, especialmente a morte de alguém tão próximo, é um evento raro para o qual não estamos nunca preparados. Como tal, por mais que achemos que sim, vêm ao de cima uma série de coisas, muitas delas surpreendentes, outras que sabíamos que existiam, mas que regressam com uma pujança avassaladora, especialmente nos tempos a seguir à morte e nos rituais associados. Falo da ironia cósmica que é, no mesmo dia, com uma diferença de duas horas, ter a ecografia morfológica do meu filho, que é uma ecografia super importante para se ver se o bebé tem todos os órgãos e, duas horas depois, o funeral do meu pai. Ou seja, uma espécie de uma prova de vida e de uma despedida. Então, por mais preparados que estejamos, a morte implica recordarmos quase uma vida inteira; não passas indiferente a essa torrente de vida da pessoa que se despede.
Quando viu o seu pai pela última vez, ele deu-lhe a sua certidão de nascimento e um romance dedicado a si. Como é que encarou isso? Terá sido o constatar de que estava a morrer e uma tentativa de reconciliação?
Acho que podia ser muitas coisas, e o livro deixa isso em aberto. Nunca vou poder saber. Utilizo esse episódio como uma garantia de que muitas coisas não podemos saber dos nossos pais e os nossos filhos não vão saber de nós. Cada ser humano é um universo complexo e vasto e não temos acesso a ele. Presumo, daquilo que conheço da natureza humana, que haja alguma relação entre uma pessoa que está velha e doente, e que sabe que pode morrer, [encarar] a certidão de nascimento como uma prova de vida. De certa maneira, é um documento da ligação entre aquelas duas pessoas: o nome dele estava naquele documento, tal como o meu.
Mas há coisas que, se calhar, existem no momento e não têm de ser necessariamente esmiuçadas na literatura. Aquele momento em si, mesmo o que ele implica de dúvida e de desconhecimento, já teve um valor importante. Acho que o meu pai não era ingénuo ao ponto de achar que aquilo seria um gesto simbólico para resolver as nossas desavenças. O que acontece é que as relações entre pais e filhos são tão complicadas, por vezes, que as desavenças e o amor coexistem. As discussões e o carinho coexistem. O meu pai era capaz de ser carinhoso comigo e era capaz de demonstrar afetos, tal como era capaz de ser implacável nas suas críticas.
Tendo eu passado por lutos, acho que as coisas não são lineares, não são uma espécie de gavetinhas que vamos abrindo e passando por elas. Falo muito disso, especialmente no ‘Filho da mãe’; o luto é pessoal e intransmissível. Sendo um fenómeno universal que toca toda a gente de forma igual, a verdade é que cada pessoa vive o luto à sua maneira. O luto é muito egoísta, a dor é muito egoísta. A negação, a raiva, a negociação são fases em que a maioria das pessoas não está a pensar quando está de luto, mas que, de uma forma ou outra, todos nós experienciamos
O seu pai morreu no auge da pandemia, quando as visitas hospitalares e os funerais ainda eram restritos. Mencionou, até, que o seu pai "não merecia morrer sozinho". Diria que não ter estado lá afetou o seu luto?
Acho que o ter visitado amenizou essa dor ou essa impotência. Digo que o meu pai não merecia morrer sozinho também em comparação com o que ele fez com a minha mãe. Em 1985, a minha mãe estava doente, foram para Londres. A minha mãe acabou por morrer num hospital em Londres e ele esteve lá todos os dias com ela. Acho que ninguém deve morrer sozinho e acho que, na pandemia, muitas pessoas morreram sozinhas, longe das famílias, que não as puderam visitar.
Hoje em dia, felizmente, a tecnologia mitiga essa dor, porque as pessoas podem falar ao telefone, podem ver-se, mas, na altura, isso deixou-me zangado. Acho que ele não merecia morrer sozinho, especialmente pelo que ele tinha feito pela minha mãe. Depois, como em tudo o resto, a zanga é uma das fases do luto. A aceitação é outra e acabamos por ter de aceitar. Consegui falar com ele dois dias antes de ele morrer, ao telefone, e acho que ambos tínhamos quase a certeza que era a última vez que íamos falar.
Mencionou as fases do luto; acredita nesse conceito restrito como nos é apresentado?
Tendo a acreditar em pessoas que sabem mais do que eu e que estudam as coisas durante muitos anos de forma científica. Esse salto de fé a única fé que tenho, no conhecimento resultado da investigação e do pensamento científico. Tendo eu passado por lutos, acho que as coisas não são lineares, não são uma espécie de gavetinhas que vamos abrindo e passando por elas. Falo muito disso, especialmente no ‘Filho da mãe’; o luto é pessoal e intransmissível. Sendo um fenómeno universal que toca toda a gente de forma igual, a verdade é que cada pessoa vive o luto à sua maneira. O luto é muito egoísta, a dor é muito egoísta. A negação, a raiva, a negociação são fases em que a maioria das pessoas não está a pensar quando está de luto, mas que, de uma forma ou outra, todos nós experienciamos.
Falo dessa dificuldade que temos em fazer essa transição, em perceber que eles são pessoas normais e não são figuras aladas quando soube, através do meu irmão, que o meu pai não dormia e que, à noite, chorava e dizia que não queria morrer. Fiquei quase zangado com o universo; como é que é possível que se permita que um homem destes tenha de passar por isto? Na verdade, depois retifico. No parágrafo seguinte, digo que o que me espanta é: "Como é que não vi mais vezes durante a vida do meu pai esta vulnerabilidade?"
A dada altura, escreveu que "aquele invólucro de madeira parece-te muito pequeno para o tamanho do teu pai". Quase que somos transportados para uma realidade paralela quando vemos o nosso pai, outrora herói e símbolo da masculinidade, imóvel, inerte e de mãos cruzadas num caixão. Como é que conciliou que o mesmo pai que lhe limpou o pé cortado, mas que também lhe dava pantufadas, era vários homens dentro de um corpo?
Sim, falo muito disso no livro. Aliás, não vi o meu pai dentro do caixão; acho que também não quereria ver. Não por nenhum tipo de medo disso, mas não é uma coisa que me suscite interesse. Além disso, os caixões não podiam ser abertos durante a pandemia. Mas, de facto, o caixão pareceu-me muito pequeno, era estranho. Não sei se é uma partida da perceção. Principalmente quando somos pequenos, os nossos pais são quase caricaturas, são figuras mitológicas e, quando crescemos, percebemos que são tão falíveis e tão frágeis como nós.
Falo dessa dificuldade que temos em fazer essa transição, em perceber que eles são pessoas normais e não são figuras aladas quando soube, através do meu irmão, que o meu pai não dormia e que, à noite, chorava e dizia que não queria morrer. Fiquei quase zangado com o universo; como é que é possível que se permita que um homem destes tenha de passar por isto? Na verdade, depois retifico. No parágrafo seguinte, digo que o que me espanta é: "Como é que não vi mais vezes durante a vida do meu pai esta vulnerabilidade?" Ela é mais comum e mais humana do que a infalibilidade e nós, especialmente os homens da geração do meu pai, tinham por certo que a vulnerabilidade não é aceitada ou, pelo menos, não é revelada nem exposta. De certa maneira, cresci com isso e ainda hoje me debato com isso, entre essa absoluta necessidade de explicar ao meu filho que é normal ser vulnerável e que, aliás, a força do teu carácter se mostra muitas vezes pela vulnerabilidade.
Há uma frase que, curiosamente, não utilizei no livro, mas é do Franklin D. Roosevelt, que era o presidente norte-americano quando foi declarada a guerra à Alemanha e ao Japão. Era um homem com carácter e com uma certa fortaleza de personalidade; foi ele que tirou os Estados Unidos da Grande Depressão dos anos 1930, foi ele que decidiu entrar na guerra para combater os delírios e as carnificinas das tiranias como a hitlariana ou do império japonês. Ele dizia: "Nunca a bondade humana enfraqueceu o carácter de ninguém. Uma nação, para ser forte, não precisa de ser cruel."
Cristalizamos uma figura paterna ou materna, porque somos muito pequenos e não temos capacidade de nuance, não percebemos que os nossos pais tiveram uma juventude, tiveram uma adolescência, fizeram asneiras, tiveram dúvidas, foram muitas pessoas, tal como nós somos, e acho que um dos grandes enganos, que se calhar só percebemos muito mais tarde, - se é que todos percebem -, é acharmos que os nossos pais são sempre as mesmas pessoas
Contei muitas vezes quando andei a falar do meu último livro, ‘Revolução’, uma história do Salgueiro Maia, que também acho que é considerado um símbolo de uma certa fortaleza mental e anímica, e um homem corajoso, um herói da revolução. A dado momento do 25 de Abril, ele enfrenta sozinho um carro militar do regime. Tem duas granadas no bolso que esteve a ponto de deflagrar, caso o carro militar do regime não tivesse voltado para trás, porque era um momento importantíssimo para o desfecho da revolução. Essa imagem de um homem que está disposto a sacrificar-se pela liberdade é incrível. No entanto, há uma outra história que ele contou depois, anos mais tarde, ao Fernando Assis Pacheco, para um jornal lisboeta, em que ele disse que, numa fotografia muito conhecida de Eduardo Gageiro, segundos após esse confronto, os soldados percebem a importância do momento, são fotografados a fazer o V de vitória e ele está um bocadinho mais afastado, com a cara mais triste, a morder o lábio. Ele disse ao Assis Pachecho: "Se reparar, na fotografia estou a morder o lábio, e estou a morder o lábio para não chorar." Imagino o que terá sido o tumulto de emoções, de medo, de alegria, de nervos naquele homem. Acho que o facto de ele ter contado aquilo num jornal nacional, a um jornalista conhecido, assumindo essa fragilidade, não só é belo, mas revela tanta coragem como a coragem que foi necessária para ele se por à frente do tanque. Esse equilíbrio ou essa assunção da vulnerabilidade pode ser também uma faceta de um carácter forte.
E também mostra confiança na sua masculinidade.
Sim, exato.
Nas últimas páginas do livro, incluiu um episódio que, confesso, fez-me rir. Nele, o seu filho perguntou-lhe o nome do seu pai e, quando lhe respondeu, ele disse que não sabia quem era. É uma resposta tão sincera de uma criança mas, ao mesmo tempo, verdadeira; nunca sabemos realmente quem foram os nossos pais, ou as suas motivações, e foi um pouco essa a conclusão a que chegou, não foi?
A propósito do riso, ainda ontem estava num livraria aqui do bairro, foi lá uma senhora comprar uns livros, a dona disse quem eu era, ela quis comprar um livro e que eu o assinasse. Mas disse que agora não conseguia ler o ‘Filho do pai’, porque o pai lhe tinha morrido. Percebo isso perfeitamente, mas aprendi com o ‘Filho da mãe’ que, quando escrevemos sobre a morte, inevitavelmente acabamos a escrever sobre a vida; é sobre as pessoas estarem vivas, não sabemos o que acontece depois da morte. A vida é uma tragicomédia; tem coisas absurdas, risíveis, ironias. As famílias também são muitas vezes fonte de comédia e, apesar de ser um livro que alguns momentos podem ser difíceis, porque falam do luto e da perda, o humor sempre fez parte da minha escrita. Acho que nenhum dos meus livros é desprovido de alguns momentos de humor – o humor faz parte da vida. Como tal, este também é um livro que tem momentos de humor; seja através do meu filho, seja com o meu pai.
O meu pai dizia muito, ‘ah, eu conheço os meus filhos como a palma da minha mão’, e era um dos grandes enganos dele. Não conhecia os filhos, especialmente os filhos adultos. Talvez conhecesse a matriz essencial dos filhos que criou, quando eram pequenos, mas ele não sabiam quem eram os filhos adultos. Esse fosso que, no nosso caso, foi-se alargando ao longo do tempo, foi algo que marcou a minha história com o meu pai
Em relação à pergunta, isso é uma inevitabilidade. Cristalizamos uma figura paterna ou materna, porque somos muito pequenos e não temos capacidade de nuance, não percebemos que os nossos pais tiveram uma juventude, tiveram uma adolescência, fizeram asneiras, tiveram dúvidas, foram muitas pessoas, tal como nós somos, e acho que um dos grandes enganos, que se calhar só percebemos muito mais tarde, - se é que todos percebem -, é acharmos que os nossos pais são sempre as mesmas pessoas. Isso acontece mais quando somos mais jovens. Mas se pensar, para mim, entre os cinco e os 15 anos, o meu pai era a mesma pessoa. Eu era incapaz de ver as mudanças abismais que 15 anos têm na vida de um adulto. Aquilo que eu mudei entre os 30 e os 45 anos é colossal, e eles também. Olhamos para a família como uma espécie de microcosmos, só que não entendemos que esse microcosmos é um ser vivo em constante mutação e que os nossos pais não são sempre os mesmos. Richard Reeves diz que "o facto de querermos escrever sobre o que sabemos dos nossos pais não resolve, de todo, o que não sabemos". Ou seja, estamos apenas a pegar numa parcela ínfima do que sabemos, a supor muitas coisas, e eu parti para isto com essa presunção; não queria de todo fazer uma espécie de retrato definitivo do meu pai.
O livro é mais sobre a dúvida, a ambivalência, o desconhecimento, porque é isso que marca a nossa existência, especialmente essa contradição. Pessoas que se conhecem desde que nasceram, que andaram ao colo, contacto pele com pele, que partilharam quartos, doenças, viagens sentem uma enorme proximidade e há uma enorme ilusão. O meu pai dizia muito, ‘ah, eu conheço os meus filhos como a palma da minha mão’, e era um dos grandes enganos dele. Não conhecia os filhos, especialmente os filhos adultos. Talvez conhecesse a matriz essencial dos filhos que criou, quando eram pequenos, mas ele não sabiam quem eram os filhos adultos. Esse fosso que, no nosso caso, foi-se alargando ao longo do tempo, foi algo que marcou a minha história com o meu pai.
O livro recordou também a sua mãe e, a dado momento, confessou que "a sua falta é, por um instante, a mesma que sentiste quando tinhas oito anos". Tendo em conta que lida com o luto desde tenra idade, como é que encara a passagem do tempo? Assusta-o? Liga os marcos aos anos que passaram desde a morte dos seus pais?
Mesmo inconscientemente, as datas têm um impacto grande na nossa vida. Curiosamente, ontem [13 de março] fez 40 anos que a minha mãe morreu. É um número bastante redondo e levou-me a ver fotografias do álbum, fui mostrar uma fotografia ao meu filho… Essa ligação é inevitável. Hoje em dia, o luto pela minha mãe é muito menos problemático e presente do que era há 10 ou 15 anos, porque fiz o luto, mas ela estará sempre presente. Ela aparece em alguns momentos; já não apenas a mãe doente ou a ausência da mãe, mas a mãe viva, ou seja, as coisas boas que, durante muito tempo, não apareceram. A minha mãe era exclusivamente a pessoa que tinha morrido. Hoje em dia conto histórias, histórias do meu pai, histórias engraçadas da minha mãe; ela está presente, sacudi um pouco esse lado mais sombrio do luto e recuperei aquilo que deve ser o luto também, que é a memória das coisas boas.
O luto nunca está feito; não existe aquela palavra que os americanos gostam muito, que é ‘closure’. Se for vivo aos 70 e tal anos, provavelmente vai haver um dia em que vou lembrar-me da minha mãe e vou chorar, e é assim mesmo
É engraçado, porque os meus filhos têm os olhos muito parecidos com os da minha mãe, e temos muito esta tendência de tentar encontrá-los nas coisas, nos nossos familiares, na genética, nas coisas que se dizem. Dou por mim a dizer frases do meu pai. Uma das coisas que pensei ontem foi que a minha mãe vive, e quando digo vive não é no sentido esotérico, religioso, porque ela está morta, mas o amor que ela teve pelos filhos volta a existir no amor que eu tenho pelos meus filhos. Provavelmente, ter sido amado daquela maneira, especialmente em criança, é uma das razões por ter suportado melhor a ausência da minha mãe, com anos de segurança e de afeto.
Pessoas que tiveram infâncias muito complicadas ou que, após a morte da mãe ou do pai, o seu mundo se desmorona, as rotinas desaparecem, aí o impacto do luto é, normalmente, ainda maior. No meu caso, tive a felicidade de, dentro da infelicidade, ter tido uma infância bastante feliz, com amor, e de a rotina ter-se mantido mais ou menos dentro do possível. O luto nunca está feito; não existe aquela palavra que os americanos gostam muito, que é ‘closure’. Se for vivo aos 70 e tal anos, provavelmente vai haver um dia em que vou lembrar-me da minha mãe e vou chorar, e é assim mesmo.
Um dia perguntei ao meu irmão se ele não achava que o facto de termos tido a maior perda de todas tão cedo nos tinha, de alguma forma enrijecido ou nos levava a relativizar outras perdas ao longo da vida, até mesmo a minha relação com a minha própria finitude e com a minha morte. Ele disse sim, até ter sido pai. Agora que sou pai, percebo melhor a resposta dele. Quando passas a ter um filho, a tua finitude já não é em função de ti, mas dos outros. A ideia de que o meu filho pode ficar desamparado, que não vou ver o crescimento dele, dá uma nova perspetiva à morte. Os meus ascendentes direitos estão todos mortos e, em relação a isso, estou relativamente pacificado. Acho que estou na tal fase da aceitação.
O facto de termos conseguido mandar sondas espaciais, as Voyager, que estão a milhares de milhões de quilómetros da Terra, e que levam gravadas num disco de ouro não só músicas de Beethoven e saudações em várias línguas, mas o batimento cardíaco da namorada do cientista líder do projeto, que estava apaixonada por ele, [mostra que] esta capacidade de abstração, de beleza e de poesia existe porque os dois géneros colaboraram, de alguma forma
"Todos os dias se anunciam nascimentos, todos os dias se preparam mortes, todos os dias se faz o jantar." Creio que esta frase ilustra bem a realidade da vida, que não para nem perante a morte. Ainda assim, a morte e o luto, ao contrário do nascimento, continuam a ser tabus. Como é que podemos fazer a sociedade ver que, ao falarmos sobre a morte, estamos a falar sobre a vida, tal como referiu?
Existem sociedades e culturas em que, seja a ligação com a morte, seja os rituais com a morte, são menos negacionistas ou evitam menos a inevitabilidade da morte. A cultura ocidental tem duas características que acho que fazem com que o luto seja pouco falado. Nas notas do telemóvel, tenho escrito ‘memento mori’, que é ‘recorda-te que és mortal’. Às vezes, espanto-me com o facto de as pessoas não pensarem mais que vão morrer, e quando digo isto não é de uma forma tétrica. Sabendo que vais morrer, o que é que isso implica na tua vida?
Nos últimos 50 ou 60 anos, as pessoas deixaram de morrer em casa, e a morte em casa possibilitava um contacto muito maior. Agora, as mortes são muito mais clínicas e sépticas, e faz sentido que assim seja. Há outra coisa que talvez tenha mais influência nessa não aceitação da morte, que é vivermos numa cultura, nunca como antes, da ditadura da felicidade. Ou seja, tendo em conta que a maioria das pessoas passa grande parte do seu dia nas redes sociais, e que o mundo virtual já não é o mundo virtual, é o mundo real, há a imposição da felicidade. É claro que tudo isso é uma mentira, porque as pessoas em algum momento estão tristes. Acho que não só morrer é contrário a esse espírito total de felicidade, como os sentimentos que estão associados à morte [são evitados] porque vão incomodar o outro. Acho que as pessoas até evitam dizer que alguém próximo lhes morreu. A morte está em contraciclo com o espírito dos nossos tempos, por assim dizer. Azar dos azares, vai calhar a todos.
Além da positividade tóxica, também julgo que só sabemos o que é o luto quando passamos por ele, e acabamos por ter outra noção da finitude e de que todos somos mortais.
Sim, há experiências que só vivendo, e o luto é uma delas. Mas mesmo fora das idades em que não pensamos nisso, porque somos imortais, no discurso público fala-se pouco da morte. Há alguma cerimónia, por assim dizer. Só utilizo a palavra morrer, não utilizo nenhum tipo de eufemismos. Percebo que as pessoas o façam; é uma proteção. Mas as pessoas morrem.
Como constatou, o mundo que recebeu os seus filhos é muito diferente daquele em que o seu pai e avô cresceram. Na sua ótica, o que é, então, ser homem hoje?
Acho que não tenho uma resposta para isso, porque acho que não há uma resposta definitiva. É uma construção. O que posso dizer é que há traços biológicos e psicológicos que antecedem a cultura, mas que também estão na origem da cultura; a masculinidade não é unicamente uma construção social e há traços que estão associados aos homens. Aliás, basta ter um rapaz de três ou quatro anos e ver como é que ele brinca num parque infantil, como brinca com as raparigas e com os rapazes, para ter essa assunção. Obviamente que estou a falar de uma 'baseline' [ponto de partida], de uma generalização; claro que há 'outliers' [casos atípicos] e há raparigas que têm traços que poderemos dizer que são mais masculinos. Vemos mais rapazes a descer o escorrega de cabeça para baixo, mas há raparigas que também o fazem, e há rapazes que não o fazem.
[Mas] os homens, em geral, são mais altos, têm mais densidade óssea, têm mais glóbulos vermelhos, veem melhor ao longe. As mulheres suportam melhor a dor, veem melhor com menos luz, têm mais capacidades linguísticas, entre outras muitas diferenças. E essas diferenças não servem como competição ou como superioridade de um ou de outro género, mas como colaboração. Ou seja, o facto de termos conseguido mandar sondas espaciais, as Voyager, que estão a milhares de milhões de quilómetros da Terra, e que levam gravadas num disco de ouro não só músicas de Beethoven e saudações em várias línguas, mas o batimento cardíaco da namorada do cientista líder do projeto, que estava apaixonada por ele, [mostra que] esta capacidade de abstração, de beleza e de poesia existe porque os dois géneros colaboraram, de alguma forma.
Claro que seria maluco se dissesse que não há elementos da masculinidade que causam dor e perda. Os homens são a terceira causa de morte das mulheres, a seguir ao cancro e às doenças cardiovasculares. Mas 80% dos homicídios são homens, grande parte da população prisional são homens, dois terços das mortes por desespero são homens. Portanto, há elementos da masculinidade, sejam eles mais biológicos ou culturais, que causam dano.
Senti que alguns elementos da minha masculinidade encontraram um veículo na paternidade, em ser pai. Esse tal espírito de missão, fazer coisas difíceis, a fisicalidade. Ser homem obviamente é muitas coisas, não é uma coisa estática, é uma coisa plástica. Mas, sendo uma coisa plástica, também é alguma coisa. Ou seja, não pode ser tudo, porque uma coisa que é tudo, não é nada
Vejo que, hoje, a masculinidade está um bocadinho entrincheirada no debate público e, muitas vezes, está sequestrada pelos extremos ideológicos. Ou a masculinidade é um pecado original, os homens são todos maus, toda a masculinidade é tóxica e isso é um problema dos rapazes – e eles que o resolvam –, ou a masculinidade é uma espécie de Santo Graal, é a melhor coisa que há, é infalível, não pode ser questionada, ao jeito de imbecis como Andrew Tate ou Donald Trump. Ou seja, o contrário do que disse do Franklin D. Roosevelt, que não precisas de ser cruel para ser forte. O que noto é que há um vazio. Como a masculinidade foi sequestrada por estes dois extremos, entre o nada e alguma coisa, há quem prefira o alguma coisa.
Os miúdos que se sentem rapazes e que gostam de ser rapazes e não sentem que têm de pagar pelos pecados dos pais e avós, portanto, não sentem que sejam carrascos do patriarcado, mas que se sentem perdidos, podem ser atraídos por estes discursos de tipos como o Andrew Tate, de uma masculinidade cheia de soberba e de futilidade, por assim dizer. Quando vejo o Bruce Springsteen ou o Barack Obama, como modelos de masculinidade, parecem-me interessantes, porque são pessoas sensíveis, sensatas, e que utilizam alguns traços associados à masculinidade – como espírito de missão, fazer coisas difíceis, o impulso para a exploração, a fisicalidade – no sítio certo. Não para explorar nem para violentar, mas para educar e para servir de modelo.
Por exemplo, senti que alguns elementos da minha masculinidade encontraram um veículo na paternidade, em ser pai. Esse tal espírito de missão, fazer coisas difíceis, a fisicalidade. Ser homem obviamente é muitas coisas, não é uma coisa estática, é uma coisa plástica. Mas, sendo uma coisa plástica, também é alguma coisa. Ou seja, não pode ser tudo, porque uma coisa que é tudo, não é nada. Há um espetro da masculinidade, mas negar que há traços biológicos e psicológicos inerentes à maioria dos homens, tal como na maioria das mulheres, é negar a biologia. É a mesma coisa do que dizer que a Terra é plana ou que é o Sol que gira à volta da Terra.
Isto quer dizer que as raparigas não têm problemas? Imensos. Reconhecer que alguns rapazes – ou todos – estão mais perdidos é esquecer tudo o que ainda há por fazer pelas mulheres? Obviamente que não. Acho que conseguimos ter duas ideias e duas preocupações na cabeça, mas não é bom termos uma sociedade em que os rapazes são esquecidos. Aliás, é até perigoso – ficam super vulneráveis a serem cativados por movimentos radicais
Ao sétimo dia de gestação, os rapazes recebem grandes descargas de testosterona, o que começa a diferenciar o cérebro. O córtex pré-frontal dos rapazes desenvolve-se mais tarde do que o das raparigas, portanto são mais imaturos até mais tarde. São mais propensos a acidentes estúpidos e morrem mais durante a adolescência. Há quem diga, por exemplo, que os rapazes deviam entrar para a escola mais tarde. Os rapazes têm mais dificuldades em estar quietos dentro de uma sala e, portanto, são sobrediagnosticados com défice de atenção. Os rapazes são menos pegados ao colo do que as raparigas e, como são tidos como menos faladores e menos dados às emoções, passam mais despercebidos quando têm problemas de saúde mental.
Isto quer dizer que as raparigas não têm problemas? Imensos. Reconhecer que alguns rapazes – ou todos – estão mais perdidos é esquecer tudo o que ainda há por fazer pelas mulheres? Obviamente que não. Acho que conseguimos ter duas ideias e duas preocupações na cabeça, mas não é bom termos uma sociedade em que os rapazes são esquecidos. Aliás, é até perigoso – ficam super vulneráveis a serem cativados por movimentos radicais. Não é por acaso que a maioria de pessoas que se juntaram ao Daesh e ao Estado Islâmico foram rapazes europeus, que viviam em França, alguns deles ocidentais. A mesma coisa com os movimentos de extrema-direita.
É preciso novos modelos de uma masculinidade sã, por assim dizer. Isso é dito, aliás, num livro que cito, do Richard Reeves, em que ele diz que uma das descobertas do feminismo e de tudo aquilo que o feminismo trouxe é que os homens precisam mais das mulheres do que o que pensavam. Porque os homens sozinhos, especialmente a partir da meia idade, têm mais tendência ao alcoolismo, a ataques de coração, mortes precoces. A Esther Perel, que é uma psicóloga de quem gosto muito, diz que a masculinidade é tida como algo adquirido, certo e intocável mas, se é assim, porque é que os homens têm de estar sempre a provar a sua masculinidade? Se calhar, a masculinidade é algo mais frágil e inconstante do que aquilo que imaginamos.
Não acredito que exista um modelo de homem. Aliás, essa ideia de um homem a sério que, se calhar, havia para o meu pai, não faz sentido para mim. Agora, sei que não é um pecado original ser homem, sei que muitos homens gostam de ser homens, como mulheres gostam de ser mulheres, sem terem um orgulho especial nisso, e que cada género tem características que foram benéficas para a espécie e que podem ser benéficas para as próximas gerações.
Também não nos podemos esquecer de que somos um produto da sociedade em que vivemos. A forma de encarar a vida do seu avô, e até mesmo do seu pai, provavelmente era diferente da sua, e certamente que será diferente da dos seus filhos. Também talvez houvesse mais estrutura tanto para os homens, como para as mulheres, e isso explique o porquê de os homens se sentirem mais perdidos.
Para os homens era mais fácil, porque eram os providenciadores. Então, o homem tinha o caminho traçado: casava-se, tinha filhos, ia trabalhar, saía de casa, voltava. Felizmente, hoje em dia somos muito mais versáteis e múltiplos. Acho que para qualquer homem moderno a ideia de ser o único providenciador já não o move; até pode ser a mulher a única providenciadora.
Não posso deixar de lhe perguntar: como é que foi escrever para 'Rabo de Peixe'? Como é que está a encarar o sucesso da série?
Escrever para ‘Rabo de Peixe’ é melhor do que o sucesso, porque passo mais tempo a escrever do que a viver do sucesso. O sucesso é muito fugaz. Diverti-me muito, gosto muito de escrever, gostei muito de estar na sala de escritores na primeira, segunda e terceira temporadas. Ninguém sabe ao certo, mas imagino que a segunda estreará em 2025. Foi um projeto muito único; raramente em Portugal há oportunidade de trabalhar nas condições que a Netflix, e especialmente o Augusto Fraga, proporcionaram à escrita. A escrita muitas vezes é o parente pobre do audiovisual, especialmente em Portugal, e o Augusto Fraga disse, ‘não, tudo começa na escrita’.
Quanto ao sucesso, claro que é incrível. Nunca imaginei que alguma coisa que fizesse na vida fosse vista por milhões de pessoas. Provavelmente não vou fazer outra que seja vista por tantas pessoas, por isso já me dou por feliz. Claro que acho que houve muito mais pessoas que gostaram do que foram detratoras, mas lembro-me de falar com o Augusto e lhe dizer que era muito melhor escrever uma série do que falar sobre uma série.
Que outros projetos tem em mãos neste momento?
Acabei de escrever um filme em inglês, para um produtor canadiano, que é baseado numa história original. Está em fase de poder vir a ser produzido ou não; é sempre preciso ver se há dinheiro. Vou escrever outro filme agora, nos próximos tempos, e tenho alguns projetos de séries, mas estas coisas demoram sempre a andar. Também estou a preparar o meu próximo livro que, em princípio, será sobre o colonialismo, a descolonização e a guerra colonial.
Leia Também: "Amizade entre mulheres é primordial, mas deixamos abaixo do conjugal"